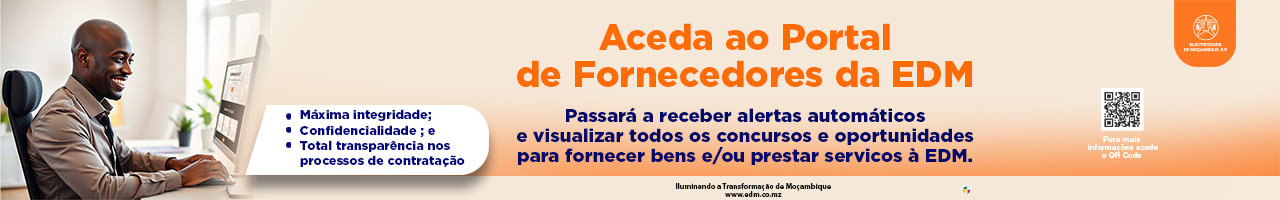Esse exercício tem de ser feito e é incondicional”. Esta tese é defendida por Teodato Hunguana, um dos negociadores do Acordo Geral de Paz (AGP), em entrevista exclusiva ao domingo.
Os moçambicanos têm sido “bombardeados” por algumas opiniões segundo as quais deveria revisitar-se o AGP. Sendo um dos negociadores deste acordo que tem a dizer a esse respeito?
Dizem que é preciso revisita-lo agora que estamos na situação crítica de tensão política. Mas o que é que vamos buscar no AGP? Esse é um processo que resolveu o problema da guerra, pôs fim à guerra, cumpriu-se, teve as suas insuficiências de implementação, mas o objectivo do próprio acordo foi ou não alcançado? Foi alcançado de tal forma que vivemos cerca de vinte anos de uma paz que se calhar não soubemos consolidar, e esse é um outro problema. Temos que nos perguntar o que é que não funcionou durante os vinte anos. Mais do que nos interrogar se o acordo falhou ou não, se foi ou não devidamente implementado, temos que saber o que de facto e de fundamental falhou no processo, para não começarmos a dizer que é por causa do AGP. Na minha óptica, o que falhou não foi o Acordo. O que não conseguimos durante esse período foi uma coisa elementar e fundamental que é a base da existência para um país que saiu da guerra, que é a reconciliação nacional. A reconciliação não é algo que está encerrado, é um processo complexo e prolongado, tem a ver com as políticas, correlações, com todo o desenvolvimento que foi possível a partir do fim da guerra, fim da guerra que é mérito do AGP. Agora temos que cair sobre nós próprios e interrogarmo-nos: se a sociedade não está reconciliada consigo mesma, não é essa a fonte permanente de possível instabilidade? Nós temos que alcançar um nível de reconciliação entre os moçambicanos, deixar de dar a aparência de que existem várias pátrias no mesmo país, a minha pátria e a dos outros. A questão dos outros. Nós todos somos outros em relação uns com os outros, não deve haver uns que são e depois outros que são outros. Somos todos outros em relação uns aos outros. Temos que nos assumir nessa pluralidade e só assim vamos construir uma unidade sólida, portanto, assente numa nação reconciliada.
Desde a assinatura do AGP os moçambicanos ainda não se reconciliaram?
O que estou a dizer é que não consolidamos a reconciliação, não quer dizer que não tenha havido, mas não se consolidou. Toda essa discussão de inclusão e exclusão o que é? É preciso olhar a sério. Não se trata de eu impor a minha opinião sobre o que é inclusão e exclusão. Trata-se de entrarmos uns nos outros e isso só é possível com diálogo profundo, ou seja, a abertura entre nós pode nos levar a esse fim. Esse ambiente pode nos levar a dizer que somos diferentes, mas não diferenças antagónicas, são diferenças para nos levar a algo que nos une que é a unidade nacional. Portanto, temos que ter esse sentido, porque senão vamos continuar uns a falar um discurso que não passa e só é ouvido por nós e não pelos tais outros e esses outros a fazer um discurso que nós não ouvimos. O importante é conseguir, apesar de todos os problemas que tenhamos, encontrar, com base neles, elementos fundamentais que nos unem e controlar aquilo que nos divide e fazer disso como que uma dialéctica de reforço daquilo que nos une e não de fragilização.

Fala-se muito de inclusão e exclusão e ouvimos o Presidente da República na tomada de posse a falar disso. O que é que está acontecer?
Será muito difícil definir inclusão segundo um critério. Aliás, o Chefe do Estado já veio a público dizer que inclusão não é isso… Porquê? Porque alguns quiseram dizer que inclusão era aquilo…, mas não vai ser uma listagem de coisas que nos vai dar o conceito exaustivo de inclusão. A inclusão tem a ver exactamente com o problema que coloquei anteriormente que é de deixar de nos ver como uns de um lado e outros doutro, porque os outros é que estão a dizer que não estão incluídos, estão excluídos e querem inclusão e os outros estão a dizer vocês não estão excluídos, parece que estamos a discutir o sexo dos anjos. Portanto, não estamos num debate meramente teórico, académico, mas que tem a ver com a própria existência da nação. Tem que deixar de haver uma nação dividida em que existem uns que estão incluídos e os outros que discutem que querem ser incluídos, quer dizer, como se discutisse em termos de partilha de bolo o que não deve ser. Nós queremos ter uma sociedade inclusiva de todos os moçambicanos, uma pátria de moçambicanos em que não nos distinguimos via partidária, porque parece que por alguém ser de um determinado partido político é moçambicano com a categoria A e outro doutro partido com a categoria B e outro C. Todos temos que nos assumirmos como moçambicanos e isso depende obviamente de todos, mas é legitimo pensar que quem está no poder, tem maior responsabilidade no sentido de promover, criar essa inclusão, razão pela qual alguns olham para quem está no poder e dizem que você está a nos excluir. Então, eu diria que é responsabilidade sim, mas não é exclusiva para quem está no poder. A inclusão não pode ser entendida como uma outorga de quem está no poder, uma concessão aos outros por parte de quem está no poder. O direito de sermos todos incluídos é natural e constitucional, não é uma outorga de alguém que tem a prerrogativa de fazer essa concessão. Temos de pegar bem isso que se chama nação reconciliada.
DIÁLOGO PODE NÃO SER NEGOCIAÇÃO…
Qual seria a melhor saída para se ultrapassar a tensão política que se regista no país?
A única saída é o diálogo. Hoje usamos e abusamos tanto das palavras e elas depois perdem o seu significado e conteúdo e questionámo-nos na base de palavras vazias. O diálogo pode ser negociação e pode não ser. Deve existir. Não há nenhuma negociação sem diálogo, mas nem todo o diálogo é negociação. A primeira questão é que a sociedade tem que ter um diálogo normal e fluído. A segunda é que temos que levar o diálogo ao nível de negociação, quando as circunstâncias exigem. Por exemplo, o sentimento que há é o de que estamos à beira do abismo, porque quando as pessoas começam a sair à rua para manifestar e reclamar a paz é porque algo de essencial não está a acontecer e a paz está em risco. Portanto, que estamos à beira de qualquer coisa que seria terrível se acontecesse. Se somos uma sociedade organizada, da maneira como estamos organizados, temos que levar o diálogo ao nível de negociação.
Negociar para quê? Volto a repetir o que disse em certa altura. Se não soubermos negociar para evitar a guerra, vamos ter que negociar para pôr fim à guerra. Repito: se nós não soubermos negociar para evitar a guerra, quer dizer que ela vai acontecer e vamos ter que negociar para pôr termo à guerra. Eu retenho muito bem o que o Presidente da República disse há dias em Tete quando afirmou que “não vou reclamar razão se não houver paz, se não tiver havido paz, eu não reclamarei razão”. O que isso significa para mim? Que se nós não soubermos dialogar e negociar para evitar a guerra, haverá a guerra e aí qual é a utilidade ou sentido de ter razão? Quer dizer, depois de um acidente na via pública, em que os carros acidentaram e há feridos e mortes, o que valerá alguém afirmar que o outro não respeitou a minha prioridade, eu é que tinha razão, se eu morri. O importante é evitar o acidente e aí todos teremos tido razão, se não conseguir evitar isso, ninguém terá razão, por isso o Chefe do Estado disse que não reclamará razão se não tiver havido paz e essa é a questão de fundo.
Quais são os obstáculos a paz? Eu estou informado como os jornalistas e como disse há dias, não conheço os bastidores do processo, a não ser aquilo que está aos nossos olhos, e em política nem tudo o que parece é, há coisas que não sei, pelo que não posso tomar um posicionamento só a partir daquilo que estou a ver, pelo que não sei quais são os reais obstáculos que existem. O Presidente da República convidou o líder da Renamo e ouvimos as respostas deste dirigente, as suas pré-condições, mas estamos a ouvir as vozes bem respeitadas do país a insistirem numa melhor ponderação, estamos a ouvir a voz do Presidente Joaquim Chissano, uma voz respeitabilíssima no nosso país e não só. Ele teve a responsabilidade histórica de reconduzir o país para a paz e nesse sentido evitou a guerra.
Então o que fazer para que a paz prevaleça ?

O Presidente Chissano pronunciou-se na Beira há dias por ocasião da celebração dos vinte anos da Universidade Católica e ouvimos igualmente o arcebispo Emérito da Arquidiocese da Beira, Dom Jaime Pedro Gonçalves, quando afirmou que Moçambique vive uma “democracia de ódio”. Enquanto tivermos uma democracia de ódio, podemos ter democracia formalmente com todo o espectáculo exterior, mas tendo sempre as raízes de onde se faz irromper a instabilidade na sociedade e temos que sair disso, não podemos viver com as raízes da instabilidade, porque elas vão sempre produzir frutos e não podemos sujeitar os nossos filhos e netos a essa incerteza permanente. Em definitivo temos que fechar esta página. Portanto, o que falar, discutir, dialogar, negociar? É evidente que as pessoas têm que sentar e falar.
O Presidente Chissano foi mais longe e nesse ir mais longe, eu o acompanho quando diz que temos que aceitar até falar do impossível e do inconveniente neste diálogo, e isso é muito profundo. Não podemos entrar para o diálogo com um “não” ou disparando. Temos que estar dispostos a ouvir tudo e até o impossível ou inconveniente. O objectivo do diálogo é aproximarmo-nos e reduzir as zonas de impossibilidade e de inconveniência. Portanto, reduzir aquilo que nos divide para fortalecer aquilo que nos une ou nos deve unir. Esse exercício tem que ser feito e é incondicional.
Mas ouvimos o líder da Renamo a dizer que quer o diálogo, mas com agenda concreta. É uma pré-condição?
Eu não sei o que é que ele entende por coisas concretas de agenda. Se ele quer ir ao diálogo com um projecto de alguma coisa que ele submeteu ao Parlamento, é dizer que o diálogo vai incidir sobre isso. Não sei se não seria transportar o ambiente do Centro de Conferências para esse diálogo… Este é o ambiente em que está encalhado o diálogo e de facto para desencalhar isto tem que se iniciar de cima. Ele não pode assumir o espírito daquilo que se passou na “Joaquim Chissano” no sentido de que não podemos passar para o outro ponto enquanto não fecharmos o anterior. Isso é um diálogo pré-condicionado e com uma metodologia que se calhar pode ter tido efeito lá, mas ao nível das instâncias máximas não pode ser assim. Portanto, a posição do líder da Renamo, que pode ser lida como uma recusa ao diálogo, se calhar reflecte alguma dificuldade da parte dele de entender que o diálogo entre ele e o Presidente da República não é o prolongamento ou a repetição do Centro Conferências.
A sociedade não está à espera que seja a repetição do que aconteceu lá. Está à espera de outra qualidade, de outro nível pela responsabilidade e qualidade dos interlocutores. Eles não podem encontrar-se e não falar de certos problemas, e não resolver os problemas e remeter a outras instâncias. Se do diálogo não resultarem soluções conclusivas, necessariamente que terão que sair orientações acordadas entre os dois que deverão orientar os níveis que estão abaixo deles para um diálogo mais produtivo e conducente às soluções. Por isso que o encontro é crucial e não estamos à espera que seja mais um encontro para tomar chá ou para fotografia. Ninguém está à espera disso. Penso que o líder da Renamo tem que assumir que quando todos clamam pelo encontro não é para tomar chá, porque seria uma grande frustração para os moçambicanos. Eles vão ao diálogo não só para identificar problemas, mas para abrir caminhos que evitem o retorno à guerra, concretamente, eles vão negociar para evitar o retorno à guerra.
Como é que olha para o rompimento unilateral por parte da Renamo do diálogo do Centro de Conferências?
Estamos a ler uma crónica de uma morte anunciada, porque na verdade ali já não acontecia nada. Sempre pensei que esse exercício não se esgotava na “Joaquim Chissano” e que algures se dialogava de forma diferente e efectiva. No meu entender, este seria o quadro, o do Centro de Conferências JJ, onde haveriam de desaguar os resultados alcançados nos outros níveis do trabalho, porque tinha dificuldade de conceber que tudo se resumia ao que se estava a passar naquele lugar e que não havia mais nada. Se calhar é o que provocou a frustração dos observadores até atirarem a toalha ao chão. Portanto, acaba por não me surpreender esse rompimento que no meu entender não foi interrupção do diálogo, mas sim interrupção do não diálogo.
CHANCELARIAS OBDECEM POLÍTICAS DOS SEUS PAÍSES

Algumas chancelarias têm feito discursos tendenciosos quando se registam incidentes políticos, defendendo a oposição. Será este um procedimento normal à luz do jogo democrático?
As chancelarias têm os seus interesses, não se pronunciam gratuitamente, mas em linha com o interesse dos seus países, e o que o governo de um determinado país defende não é necessariamente o seu discurso oficial. Em política nem tudo que parece, é o que é. Há muito cinismo e hipocrisia e muito jogo duplo. Portanto, é difícil ler e por vezes os discursos podem ser claramente tendenciosos, mas nem sempre, dependendo da inteligência de quem os faz, podem ser suficientemente subtis para não revelarem a sua tendenciosidade. Mesmo quando eles são simpáticos, temos que ter cuidado, não nos podemos iludir, temos que analisar que interesses têm os respectivos governos em Moçambique. Eles fazem pronunciamentos em conformidade com a política e os interesses dos seus governos. Temos que ser precavidos porque nem tudo que sorri é um sorriso.
Ouvimos a última aparição a propósito do incidente de Vanduzi com a caravana do líder da Renamo…
O que se passou em Vanduzi ninguém disse até este momento. Disse a liderança da Renamo que foi um atentado. Disse em termos credíveis e objectivos que nós possamos concluir que foi um atentado e não uma montagem? Não estou a dizer que foi montagem, mas não tenho elementos que me possam fazer concluir que efectivamente foi um atentado, uma vez que há muitas contradições, como por exemplo, feridos que não aparecem, fardas vistas no escuro da noite, mas identificadas. Temos que nos interrogar uma vez que estamos num clima de tensão e há vários interesses em jogo, quer internos, assim como externos e alguns desses interesses podem promover coisas de dentro ou de fora. Estamos em condições de saltar para a praça e apontar o dedo para alguém, ou esse apontar do dedo pode estar em articulação com a montagem? Aponta-se o dedo e depois há pronunciamentos de certas chancelarias no sentido daquele apontar do dedo, mas essas chancelarias têm elementos para agir nesse sentido? Então porquê se pronunciam de uma maneira tendenciosa? Podemos especular até que ponto não estarão envolvidos, mas não quero especular sobre as chancelarias. O que digo é que os pronunciamentos das chancelarias nunca são gratuitos, uma vez obedecerem à política e aos interesses dos respectivos governos, e às vezes, tais interesses podem não ter nada a ver com a verdade factual do que aconteceu.
A bancada da Renamo na Assembleia da República tem pautado por discursos de incitamento à violência como por exemplo, a tese de que as forças residuais não devem ser desmobilizadas. Não estaremos perante mais uma violação do AGP?
Não vou relacionar isso ao Acordo de Roma, porque neste momento é extemporâneo. Se formos ao Acordo esses homens já não podiam existir. Existe o Acordo de 5 de Setembro de 2014 que também não está a ser respeitado. Portanto, não se pode analisar este posicionamento do ponto de vista legal ou meramente legalista. Porque por aí vamos dizer que insistimos para que os deputados da Renamo tomassem os seus assentos na Assembleia da República, e isso era vontade de nós todos e do próprio partido. Mas nessa altura havia homens que ainda não tinham sido desarmados e o Acordo de Cessação das Hostilidades não tinha sido observado… Talvez teríamos dito fiquem na porta à espera até que os vossos homens sejam desarmados e depois vocês tomam os assentos…Aquele é um discurso desagradável, que ninguém gosta de ouvir, mas é o discurso da coerência deles, é a voz do partido armado que eles representam. Há quem fala de duas Renamos, mas na minha óptica é uma única Renamo que está armada e está representada no Parlamento. Portanto o problema é esse.
Na sua óptica o que é que falhou para que até hoje a Renamo, continue com homens armados?
Em termos de análise, esta questão pode ser colocada na perspectiva de quem tem as armas e que as usa para ameaçar o Estado, para obter concessões. Negoceia com uma arma apontada e a lógica é que só consegue alguma coisa nessa negociação quando activa este instrumento. Portanto, pensa que no dia em que arrumar o instrumento vai ter um diálogo vazio que não lhe vai levar a nenhum lado. Claro que está fora da lógica do funcionamento de uma sociedade democrática, mas nós ainda temos caminho a percorrer, razão pela qual nesse percurso ainda temos que resolver este problema que tem outras ramificações, como por exemplo, a problemática da inclusão, da despartidarização. O desafio é como resolver o problema, e não os discursos que temos estado a assistir. Portanto, falhou tudo aquilo que nos devia dar bases para uma sociedade reconciliada consigo mesma, sem as raízes da instabilidade no seu seio, raízes essas que vão produzindo os seus frutos. Por isso, hoje resolvemos um problema pontual, mas mais adiante surgem outros problemas, sempre, e vamos correndo atrás do prejuízo… num ciclo vicioso que ainda não conseguimos romper, pôr-lhe um fim.
DESCENTRALIZAÇÃO INICIA NO MONOPARTIDARISMO
Todo mundo fala de descentralização e as reivindicações da Renamo têm a alegação de que visam responder a esta problemática. Afinal o que se entende por descentralização?
Sobre a descentralização há um entendimento doutrinário científico que se aprende na Faculdade de Direito e que depois se implementa na vida quotidiana. O conceito é aquele segundo o qual certos interesses locais são atribuídos como poderes às estruturas representativas locais, nomeadamente, aquelas que têm personalidade jurídica. São atribuídos esses interesses como poderes que podem ser exercidos a esse nível sem o controlo dos outros órgãos que não sejam tribunais ou de fiscalização. Portanto, poderes próprios que são dados a órgãos que não são centrais. O outro conceito é a desconcentração em que dentro de uma linha hierárquica vão se distribuindo poderes de centro para a periferia, isto é, do ponto mais alto para o mais baixo da hierarquia. Quer dizer, há subordinação e vai havendo delegação de poderes, por exemplo, o que ocorre entre um Ministro até ao director provincial.
Pode ser mais explícito?
O que estou a dizer é que se desconcentram poderes de um Ministro para o Director Nacional, deste para o provincial ou poderes do Governo central para o provincial, onde há uma linha hierárquica do topo para a base, mas quando esses níveis de base tem personalidade jurídica que é o caso das autarquias que podem ter mais ou menos poderes definidos por lei, estamos perante a descentralização e não desconcentração.
Quando é que Moçambique embarcou para a descentralização?
Esta questão é pertinente. Nós viemos do sistema do poder unitário do Estado que tem a ver com a fundação do próprio Estado moçambicano em que a Frelimo conduziu a luta de libertação nacional. Era uma formação político militar para conduzir a guerra. Aliás, para conduzir a guerra é preciso uma alta organização e disciplina o que exige a centralização do poder e é essa Frelimo que funda o Estado ao vencer a guerra contra o colonialismo português. Portanto, é um poder unitário e concentrado que foi importante para a derrota do colonialismo. Não se pode imaginar que logo após a implantação do nosso Estado, o poder se espalhasse, tinha que cumprir a sua função histórica que era a sua consolidação, por isso definiu-se a centralização do poder.
Centralização do poder?
Esse Estado fundado pela Frelimo estava assente num sistema de assembleias populares que eram definidas inicialmente como as instâncias máximas do poder a cada nível. Havia a Assembleia Popular, a Assembleia Provincial, que eram regidas pela Constituição de 1975 que foi sofrendo revisões para responder ao crescimento do país. Portanto, as assembleias surgem em 1977, numa fase embrionária em que não havia eleições, mas mais tarde houve eleições até aos escalões inferiores. Nessa altura estávamos a criar uma base para a descentralização. As assembleias existiram até à grande revisão constitucional em 1990. Como é que cai este sistema? A revisão de 1990 vem pôr termo ao sistema assente no conceito do poder unitário do Estado, portanto, vem admitir o pluralismo democrático porque anteriormente a definição é que a Frelimo era a força dirigente da sociedade e do Estado, em que o presidente da Frelimo era igualmente o Presidente da República.
Em 1990, entramos para um outro período que alguns chamam de “segunda República” porque de facto há uma transformação qualitativa muito grande, em que o poder já não é unitário. A Frelimo já não se define como força dirigente da sociedade e do Estado, a organização política assenta no pluralismo e na vontade do povo expressa em sufrágio universal, isto é, eleições livres e voto directo, pessoal e secreto.
Já nessa altura havia eleições?
Deixe-me dizer que isso colocou um problema sobre o qual o Presidente Samora sempre chamava a atenção, quando dizia que é preciso “não deitar fora o bebé com água suja do banho”, isto é, que era necessário lavar com cuidado e reter aquilo que são os ganhos adquiridos, os valores. Mas o processo histórico moçambicano não obedeceu rigorosamente a este princípio, razão pela qual em 1990, quando fizemos a grande transformação na Constituição, não houve como fazer uma grande reflexão sobre o que se devia reter do passado. Se calhar deitou-se fora muita coisa que devíamos ter retido. Claro que as transformações significaram a incorporação de outros valores, mas o processo histórico deve seguir uma dialéctica de transformações em que o passado não vai todo para o caixote do lixo. Então quando é que embarcamos na descentralização? Eu diria que houve descentralização na fase do poder unitário e é preciso estudar isso, por exemplo, na fase final do período de Samora Machel há uma grande revisão constitucional por força da qual se introduz a função do Primeiro-Ministro como Chefe do Governo. Estamos a falar de 1986 em que houve a primeira grande transformação constitucional, porque segundo a Constituição de 1975, o chefe do governo era o Presidente da República que era Chefe do Estado, Presidente da Assembleia Popular e Comandante-em-Chefe das Forças de Defesa e Segurança.
A partir desta revisão, a Assembleia passou a eleger o seu Presidente. Portanto, isso nos dá a linha de evolução que houve e que mais tarde, na Constituição de 1990, há um recuo porque reconduziu-se a chefia do Governo ao Presidente da República. Há que estudar como é que ocorreu a descentralização no período anterior à Constituição de 1990, que é o período do poder unitário do Estado. O que há a reter é que depois de 1990, embarcamos para as negociações de Roma que terminaram em 1992 e em 1993 foi submetido à Assembleia da República um projecto de autarcização, na linha de descentralização.
Isso antes da realização das eleições de 1994?
É preciso explicar que a problemática da descentralização não é trazida com as eleições de 1994 ou pela Renamo. É uma filosofia que tradicionalmente é do partido Frelimo, que ainda em 1993 trouxe uma proposta de autarcização de todo o território nacional em que se dizia que os distritos é que constituíam os municípios. Esta proposta não foi avante porquê? Aqui é preciso fazer justiça ao Dr. Domingos Arouca. Nem toda a gente se sentia à vontade com esta radical autarcização do país, mas quem de algum modo pôs o guizo ao gato foi o falecido Dr. Domingos Arouca que questionou qual era a base constitucional do projecto da autarcização, uma vez que a Constituição não falava de autarquias, mas apenas de órgãos locais do Estado que não são o poder local, mas poder central que se desconcentra até à base.
As autarquias são o poder local e não estavam expressas na Constituição de 1990. Então, alguns de nós pegamos esta objecção do Dr Arouca e fizemos recuar aquele projecto fundamentando que era preciso reflectir e proceder à revisão constitucional para introduzir o poder local~, os princípios constitucionais que o devem reger. Assim, o projecto voltou para trás e fez-se a revisão constitucional que introduziu as autarquias locais e na sequência, aprovou-se a legislação ordinária em que se rejeitou o conceito de municipalização a partir do distrito e optou-se por municípios da categoria de cidades e vilas. Isso não significa que a descentralização teoricamente só pode ir até a estas unidades territoriais. Naquela fase, e tendo em conta o próprio processo de edificação do Estado, fixaram-se aqueles limites. E introduziu-se o conceito de gradualismo para a criação das autarquias.
Gradualismo?
Isso é lógico, porque ainda estamos no processo de edificação do Estado, portanto, cada transformação profunda ou inovação tem que ser feita com as cautelas necessárias, sob pena de as transformações resultarem na destruição do próprio Estado. Essas cautelas são historicamente justificadas. Evidentemente que este processo obedece ao ritmo da evolução das próprias autarquias e isso está aberto à discussão em cada momento, não é um processo fechado. A amplitude do poder local é uma problemática aberta à discussão. Não é correcto avançar por impulsos, aventureirismo, improvisações. É preciso que haja um debate profundo e isso envolve todos os moçambicanos. Trata-se do interesse da Nação, razão pela qual as discussões devem envolver a todos. À pergunta quando é que Moçambique embarcou para a descentralização, vamos dizer que o processo é longo e é um processo que deve ser analisado sob o ponto de vista histórico.
Falando em descentralização, certos círculos de interesses reclamam que alguns serviços já deviam estar na responsabilidade dos municípios. Como é que olha para essas correntes?
Se não houvesse esse debate e questionamento, diria que a descentralização abortou. Isto é, que o processo está parado. Se existe esse questionamento é porque a própria evolução está a trazer questões que devem ser debatidas e na base disso avançar na extensão e amplitude dos poderes. Portanto, a devolução dos poderes às autarquias não está fechada, acabada, nem na Constituição nem na lei ordinária e é por isso que na última deslocação da Ministra da Administração Estatal e Função Pública a Tete, em reunião nacional dos municípios, houve discussões nesse sentido. As discussões devem ser na base concreta da evolução e da experiência que as autarquias tragam, das questões para o seu desenvolvimento com base na sua experiência governativa.
É preciso haver um certo gradualismo. Não deve ser arbítrio de um ministro ou voluntarismo de um edil. Creio que deve ser em função das capacidades dos municípios, pelo que não é arbitrário e não há nenhum problema político, a não ser de implementação do programa de gradualismo contido na Constituição da República e na própria lei das autarquias.
A EDIFICAÇÃO DO ESTADO ESTÁ LONGE DO FIM

Recentemente um partido de oposição submeteu ao Parlamento uma proposta da criação das autarquias provinciais que não passou por se considerar que violava a Constituição. Como viu este posicionamento?
Houve uma proposta e uma decisão sobre esta proposta. Se me tivesse colocado a questão antes, se calhar responderia com muita liberdade sobre o que deveria ter sido. Estamos a conversar depois da decisão tomada na Assembleia da República, pelo que não vou debruçar-me sobre o que poderia ter sido, mas o que foi. O que aconteceu é que o projecto foi chumbado por inconstitucionalidade e a deliberação aponta não para o fechamento do assunto, mas para uma reflexão futura. Alegou-se inconstitucionalidade do projecto devido à maneira como foi encarado. Se era ou não matéria de debate, hoje isso já não importa. O que é necessário é pegar na problemática da descentralização a sério, porque a tal proposta tinha a ver com esta problemática. Então, na minha opinião é preciso fazer o debate sobre a descentralização no âmbito da filosofia da Constituição, nomeadamente, da descentralização e da desconcentração da Administração Pública, que está inscrito na Lei Fundamental, não por pressão da Renamo, porque foi a bancada da Frelimo que introduziu estes conceitos, bem como o poder local, e não foi sob pressão da oposição. Isso significa que há uma filosofia sobre a descentralização que está subjacente à Constituição e que aqui e ali e ao longo da Lei se exprime de alguma maneira.
Como o processo da edificação do Estado Moçambicano está longe de ser acabado, é neste âmbito que devemos retomar a discussão da descentralização e nesse entendimento várias ideias podem existir e que devem ser discutidas nessa perspectiva e, quem sabe, nessa proposta da Renamo no âmbito da discussão mais ampla sobre descentralização podemos chegar a diversas conclusões.
Muita discussão sobre este assunto?
Podemos chegar à conclusão de que o projecto é inconstitucional ou de que nos termos em que for emendada desta ou daquela maneira se situa dentro da descentralização e, portanto, no âmbito da Constituição. Então, só um debate profundo das coisas neste sentido pode ser produtivo. Ora, esse debate ainda não aconteceu, não se fez nem antes, nem depois. Na minha opinião, como sociedade somos responsáveis de fazer os debates profundos que devem ser feitos oportunamente e quando não fazemos isso, reagimos de uma forma muito defensiva, quando alguém levanta ideias, opiniões, etc.
Diz que a sociedade é a culpada?
Nesses termos, estou a falar de instituições, da intelectualidade, da academia, sobretudo dos pensadores, cuja experiência de vida está ligada a esta problemática. Ainda não tivemos um fórum organizado para debater, em tanto que sociedade, mais do que um partido. Os partidos devem fazer o seu debate, mas há um momento em que debatemos num fórum em que estamos todos, a exemplo de um Fórum Mozefo, que não é político-partidário, mas participam sensibilidades políticas diversas em que há moçambicanos a discutir sobre os vários problemas do país. Ora bem, nós devíamos discutir problemas complexos como a descentralização, que caminhos e como avançar neste capítulo, que é uma questão que diz respeito a todos nós e não objecto de reivindicação político-partidária. Se não fizermos isso, alguém pode aparecer com pontos de vista numa plataforma político-partidária, quando o problema é de todos nós, porque o problema é a construção do Estado Moçambicano.
A mesma bancada voltou à carga e desta feita com uma proposta de revisão pontual da Constituição da República em que entre outros aspectos quer que sejam aprovadas as autarquias provinciais. Que tem a dizer em relação a esta proposta?
Esta proposta é resultado da forma como se terminou o não debate da anterior proposta. Quer dizer, a anterior não teve debate profundo. Levou uma rejeição com fundamento de inconstitucionalidade. Então, esta é resultado dessa maneira de matar o debate sem matar o problema. O problema subjacente é a descentralização. Como não discutimos e rejeitamos aquela proposta alegando inconstitucionalidade, então agora o proponente pretende alterar a Constituição. Mas vamos alterar para onde? Para dizer o quê se ainda não se fez o debate? Tanto na anterior proposta como nesta, na minha análise, a questão de fundo é o debate da descentralização no quadro da Constituição. Enquanto isso não acontecer, você não tem luzes para alterar a Constituição e para discutir a anterior proposta, você não tem luzes para tomar uma outra posição. O que é que ocorreu de lá para cá? Algum debate? Não. Agora estão a procurar remover a razão apresentada para o “chumbo”, ou seja como foi evocada a inconstitucionalidade. Então vai alterar a Constituição para se conformar com a proposta. Mas esse não é o caminho, mas sim discutirmos e ficar claro qual é o grau de descentralização que pretendemos para o país daqui para frente a partir do estágio actual. Não sei se nas três bancadas existe a capacidade para fazer um debate que esgote este assunto e aprofunde até onde for possível na discussão em plenário. Acho que é preciso ir para além das bancadas parlamentares.
Duvida da capacidade das três bancadas?
Não se trata aqui de uma função de representação. Este tem que ser um debate de análise e aprofundamento. Um debate que tem de reunir cabeças para se discutir a fundo o problema, e não estou a falar por exemplo da auscultação pública. Isso, a auscultação, acontece quando você já tem as questões de fundo para submeter aos cidadãos, pelo que não pode ser uma questão avulsa em que se vai sair e perguntar as pessoas o que é que acham da descentralização. Lembra-se quando foi do debate que antecedeu a revisão da Constituição de 1990? Em que tivemos um ante-projecto, precedido de uma discussão, e lembra-se que a auscultação até resultou numa resposta negativa de não ao pluralismo político partidário e na base das discussões que se seguiram a nível mais restrito decidiu-se pelo pluralismo.
Portanto, quando falamos de auscultação temos que ser cautelosos. Por exemplo, há pouco houve aquilo que se considerou revisão do Código Penal introduzindo-se medidas alternativas à prisão. Eu não sei se foi uma medida correcta. O que acho que falhou? Eu me interrogo quais são os especialistas que estiveram envolvidos, entre sociólogos, antropólogos, políticos, etc. Essas penas acabam aparecendo com a justificação de que é para esvaziar as cadeias. Quem é que disse que para resolver o problema da superlotação das cadeias deve ser através de penas alternativas? Essa é a solução daquele problema ou isso é a criação de um outro mais grave? Este é o problema de nos fecharmos em certas paredes e decidir porque temos poder de decisão, e isso não pode resultar. A descentralização não é sair e fazer uma auscultação, é uma questão complexa. A auscultação é uma fase que não é o princípio do processo, mas sim um desenvolvimento do debate e reflexão que deve ser organizado, que sai dos círculos mais restritos para níveis cada vez mais amplos, digamos um debate em que as pessoas passam a pensar de uma forma mais ampla, mais participada.